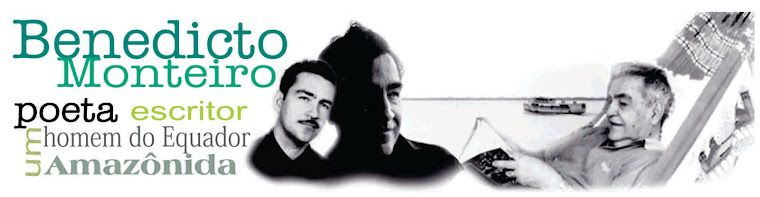Eu lhe disse que não sabia a idade dos meus sete filhos, porque guardava só o momento devido da fabricação dos cabras. Como já lhe disse, só guardava o ato, o ato vivo. Mas teve um, o último, que eu senti que era mesmo já o derradeiro. O derradeiro também dessa vontade que eu tinha de povoar o mundo.
O compromisso do meu sangue e a força da minha vivência paresque terminava em plantio de novas gentes. Acho que findava paresque nesse filho índio. Foi o último, o único — o senhor pensa — que não nasceu só de mim, da minha única vontade cega pra cruzar meu sangue em nova vida misturada de outras raças e outras valências. O desejo de possuir mulher bem diversa, diversa das da minha gente, já tinha gerado todos os outros conforme eu já lhe disse. Mas, Esse Um, nem sei como lhe diga, até hoje não sei como nasceu. Não sei nem mesmo como nasceu em mim o próprio desejo no rumo desse filho agreste.
Que ia ser o único e derradeiro feito com vontade gerada fora do meu corpo, eu nem sabia, lhe juro que eu não sabia. Os outros, era na hora que eu sentia. Já agarrado e dentro da mulher, queimando e esguichando a marca do meu rastro. Já agarrado com a mulher que ia ser mãe e em pleno esforço de cavar no fundo o gosto amargo-e-doce da criação. Eu lhe juro que eu sentia a vida refazendo a vida. E nem lhe conto. . .
Mas esse, esse derradeiro e último da minha própria lavra, esse, esse veio paresque mais da terra, mais da água e muito mais das plantas que cresciam. Não sei se pelo cheiro do vento passando pelos galhos ou se das próprias folhas roçando a minha fronte. Não sei se das folhas caindo de leve sobre o barro ou se das folhas mortas afundando com meus pés na própria lama. Eu me lembro bem, isso eu me lembro. O vento vindo pelas folhas e o cheiro vindo pelo vento era uma forma de perfume exalando por toda parte. Quando dei por mim, estava abraçando uma árvore. Era como se fosse uma mulher virgem recebendo a pura água. Lhe juro que nesse momento foi mais que eu senti vontade de emprenhar a natureza. Ali mesmo eu senti uma tesão à toa — o senhor pensa — tesão mesmo arrepiando e endurecendo o meu vergalho.
Não era só lembrança da minha infância quando eu desenhava no barro um negócio tufado de mulher e metia o meu vergalhozinho teso de moleque numa racha lisa e úmida de água escorrendo no barranco. Mas era a mesma força viva que agora vinha misturada com as cores, os sons e com os cheiros exalando a própria terra. Era como se os cipós trançados, balançando, roçassem de repente todos os meus nervos. Era só pisar no chão e afundar os pés nas folhas quentes, pra sentir elas grelando e crescendo de novo em meus cabelos. Era só entrar na mata, subir mais e mais o rio e deixar a terra pisada e repisada pra receber nas plantas dos pés, nas palmas das mãos e na cava dos braços, o ar entranhado de tanta força agreste. As cores, o senhor pensa, já não entravam mais só pelos meus olhos. Os verdes entranhavam no meu corpo, subiam pelas pernas e fechavam o céu por cima da minha cabeça. E feito claridades-sombras, estendiam caminhos sempre cada vez mais pra dentro. Muito mais pra dentro.
Depois que eu entrava mais na mata, os verdes apagavam até as marcas dos meus passos. Assim eu me embrenhava. E assim como os sons, os cheiros e as cores arretavam os meus desejos, assim eu sabia que eu estava sendo conduzido por algum mistério. Mistério não, encante! Gostos e desejos vindos paresque de muito longe. De muito longe, como se fosse a posse de uma antiga herança. Por esses cheiros, por esses sons e por essas cores, eu ia me embrenhando na mata e em mim mesmo. Mais pra dentro, muito mais pra dentro.
Quando eu já tinha perdido quase os caminhos das muitas voltas, que eu já estava acostumado com a vida assim agreste, foi que eu compreendi a razão das minhas vontades. Eu estava me aproximando sem saber do caminho de alguma tribo. Queria derramar a água no rio, o sangue no sangue, o cheiro no vento, a terra na terra. Fazer como a chuva que sempre volta pra dormir com o rio no leito da corredeira. Uma força me guiava, um encante me chamava pra fazer um filho numa índia brava. Os meus conhecimentos de mata também comandavam sem rumo essa caminhada. Os esforços que eu fazia como balateiro pra não encontrar índio na minha rota, esses mesmos esforços procuravam as distâncias das malocas. Só que por outros caminhos. Por onde nunca tivesse passado gente, gente civilizada da cidade grande. Um filho meu com uma índia, tinha que ser feito assim na natureza. Não queria ver um filho meu feito esses índios mansos, que servem aos padres de empregados ou como esses que andam nas cidades servindo de propaganda pró Governo e de palhaços pra turistas. Por isso, as forças da terra e o azougue do meu sangue me guiavam por caminhos bem diversos.
Até hoje, não sei dizer quanto tempo durou essa minha viagem e vivência pelas matas. Só depois de muito tempo foi que eu senti que andava feito doido atrás de uma índia, paresque. Depois que acabou meu mantimento, ainda comi muito peixe, muita caça e muita fruta do mato. Conhecia muitos costumes de índios que podiam satisfazer as minhas poucas vontades. Mas não queria conviver com eles nem findar meus dias numa maloca. Eu sempre acreditava na força dos meus olhos e na quentura do meu sangue pra me ajudar a fazer um filho numa índia. Acho que foi isso: foi o olhar no sangue e o sangue no olhar; olhar sangrando e o sangue grelando, que impediu que a indiazinha gritasse. Quando caí em cima dela, na beira do rio, nem lhe conto o modo como a bichinha me encarou já quase sem nenhum espanto. Não vou lhe contar o tempo que gastei pra me aproximar dessa índia em pleno mato.
Depois que eu entrava mais na mata, os verdes apagavam até as marcas dos meus passos. Assim eu me embrenhava. E assim como os sons, os cheiros e as cores arretavam os meus desejos, assim eu sabia que eu estava sendo conduzido por algum mistério. Mistério não, encante! Gostos e desejos vindos paresque de muito longe. De muito longe, como se fosse a posse de uma antiga herança. Por esses cheiros, por esses sons e por essas cores, eu ia me embrenhando na mata e em mim mesmo. Mais pra dentro, muito mais pra dentro.
Quando eu já tinha perdido quase os caminhos das muitas voltas, que eu já estava acostumado com a vida assim agreste, foi que eu compreendi a razão das minhas vontades. Eu estava me aproximando sem saber do caminho de alguma tribo. Queria derramar a água no rio, o sangue no sangue, o cheiro no vento, a terra na terra. Fazer como a chuva que sempre volta pra dormir com o rio no leito da corredeira. Uma força me guiava, um encante me chamava pra fazer um filho numa índia brava. Os meus conhecimentos de mata também comandavam sem rumo essa caminhada. Os esforços que eu fazia como balateiro pra não encontrar índio na minha rota, esses mesmos esforços procuravam as distâncias das malocas. Só que por outros caminhos. Por onde nunca tivesse passado gente, gente civilizada da cidade grande. Um filho meu com uma índia, tinha que ser feito assim na natureza. Não queria ver um filho meu feito esses índios mansos, que servem aos padres de empregados ou como esses que andam nas cidades servindo de propaganda pró Governo e de palhaços pra turistas. Por isso, as forças da terra e o azougue do meu sangue me guiavam por caminhos bem diversos.
Até hoje, não sei dizer quanto tempo durou essa minha viagem e vivência pelas matas. Só depois de muito tempo foi que eu senti que andava feito doido atrás de uma índia, paresque. Depois que acabou meu mantimento, ainda comi muito peixe, muita caça e muita fruta do mato. Conhecia muitos costumes de índios que podiam satisfazer as minhas poucas vontades. Mas não queria conviver com eles nem findar meus dias numa maloca. Eu sempre acreditava na força dos meus olhos e na quentura do meu sangue pra me ajudar a fazer um filho numa índia. Acho que foi isso: foi o olhar no sangue e o sangue no olhar; olhar sangrando e o sangue grelando, que impediu que a indiazinha gritasse. Quando caí em cima dela, na beira do rio, nem lhe conto o modo como a bichinha me encarou já quase sem nenhum espanto. Não vou lhe contar o tempo que gastei pra me aproximar dessa índia em pleno mato.
Levei tempos pra encontrar ela sozinha, fora da companhia dos outros da maloca. Meninazinha ainda, mas sabidinha do ofício, ela paresque compreendeu logo que eu queria roubar ela pra levar comigo. Aí que o entendimento foi paresque só dos olhos e no corpo, o senhor pensa. Não por mim, que tinha visto ela nua dês do primeiro instante. Primeiro, sozinha, com a cabeça boiando feito balde-cuia dentro d’água. O rio largo punha distância nas distâncias: boiava só a imensidade. Depois, cada vez mais de perto a ponto de poder ver a água escorrendo em pingos por cima da nua pele bezuntada. Nessas horas eu via o corpo nu sem penas, nem enfeites. Nem lhe conto as carreiras que ela dava. Eu aí me escondia na mata com medo que ela mesma me denunciasse. Nessas carreiras ela ficava mais nua ainda, porque não deixava nem o rastro. Aí eu me escondia na mata até que ela com sua presença me dissesse de novo que eu estava fora de perigo.
Do segundo encontro em diante, era sempre ela que me procurava. Podia me esconder na grota mais disfarçada da mata, podia trepar até no galho de pau mais alto, que ela sempre arranjava um jeito de chegar por perto, com aquele arzinho desconfiado. Hoje, eu sei por que quando eu caí em cima dela de surpresa, ela não fez nem resistência, nem alarde. Ela fingia que estava descuidada como maneira de me atrair e como sinal de que não tinha ninguém pela redondeza.
Foi o momento mais natural e paresque a maneira mais simples de praticar o meu ofício. Nem foi preciso olhar, falar, fazer qualquer gesto. Foi o desejo se misturando com o prazer, juntando todos os momentos. Nossos corpos nus se atraíram como visgo. Quando demos por nós, já estávamos enroscados um no outro: primeiro no barro, depois na lama, até acabar por dentro d'água, rolando e nadando como peixes. Ou quem sabe, até voando como pássaros. Praticamos, dias, as formas mais livres de todos os afetos. Nadando, trepando, voando, sonhando, quase se afogando, ou simplesmente ouvindo a terra estremecer e vendo a mata fechar o nosso mundo. E não posso dizer que, com essa índia, eu senti no exato momento o aviso que eu sempre sentia quando fazia um filho homem. Ora era na água, ora era na praia, ora era no mato, machucando ervas e acamando folhas secas. Mas em tudo eu sentia a natureza. Sentia que estava devolvendo o meu sangue e que o filho nascido daqueles eitos nunca mais ia ser visto. Era como se eu tivesse plantado uma árvore na floresta virgem. Deixado escapar uma caça na clareira. Libertado um pássaro num céu bem alto ou derramado n'água um baita cardume de peixes vívos. Assim eu tinha entregue esse meu filho à natureza. Só que pra ele, eu queria uma vida ainda mais livre.
Do segundo encontro em diante, era sempre ela que me procurava. Podia me esconder na grota mais disfarçada da mata, podia trepar até no galho de pau mais alto, que ela sempre arranjava um jeito de chegar por perto, com aquele arzinho desconfiado. Hoje, eu sei por que quando eu caí em cima dela de surpresa, ela não fez nem resistência, nem alarde. Ela fingia que estava descuidada como maneira de me atrair e como sinal de que não tinha ninguém pela redondeza.
Foi o momento mais natural e paresque a maneira mais simples de praticar o meu ofício. Nem foi preciso olhar, falar, fazer qualquer gesto. Foi o desejo se misturando com o prazer, juntando todos os momentos. Nossos corpos nus se atraíram como visgo. Quando demos por nós, já estávamos enroscados um no outro: primeiro no barro, depois na lama, até acabar por dentro d'água, rolando e nadando como peixes. Ou quem sabe, até voando como pássaros. Praticamos, dias, as formas mais livres de todos os afetos. Nadando, trepando, voando, sonhando, quase se afogando, ou simplesmente ouvindo a terra estremecer e vendo a mata fechar o nosso mundo. E não posso dizer que, com essa índia, eu senti no exato momento o aviso que eu sempre sentia quando fazia um filho homem. Ora era na água, ora era na praia, ora era no mato, machucando ervas e acamando folhas secas. Mas em tudo eu sentia a natureza. Sentia que estava devolvendo o meu sangue e que o filho nascido daqueles eitos nunca mais ia ser visto. Era como se eu tivesse plantado uma árvore na floresta virgem. Deixado escapar uma caça na clareira. Libertado um pássaro num céu bem alto ou derramado n'água um baita cardume de peixes vívos. Assim eu tinha entregue esse meu filho à natureza. Só que pra ele, eu queria uma vida ainda mais livre.
Esse — eu lhe digo — esse meu filho com essa índia é pura invenção do meu ofício. Forças do sangue borbulham pelos olhos e pelas partes. Esse ofício de fazedor de homens me indica. Tenho certeza que deixei esse filho grelado naquela indiazinha. Mas também é só isso a que meu pensamento se atreve. Eu não quero nem lhe dizer como imagino esse meu filho índio. Dele eu não sei nem o nome. Tenho até medo de prender o seu destino amarrado no meu pensamento. Quero ele sempre livre, enquanto for livre a natureza. Agora, eu lhe confesso: só tenho medo que ponham por perto dele uma estrada, uma fazenda ou então encontrem por perto de suas terras alguma mina. Olhe, eu ando muito consumido. Penso no perigo que corre a liberdade desse meu filho índio. Tomara que essas estradas que estão cortando as matas não passem ainda por perto das terras dele. Nem por perto, nem por longe. Quando penso nele sempre digo: Deus te livre, meu filho, dos perigos duma estrada ou duma fazenda, Deus te livre ainda mais das botas de sete léguas dessa imundícia de progresso.